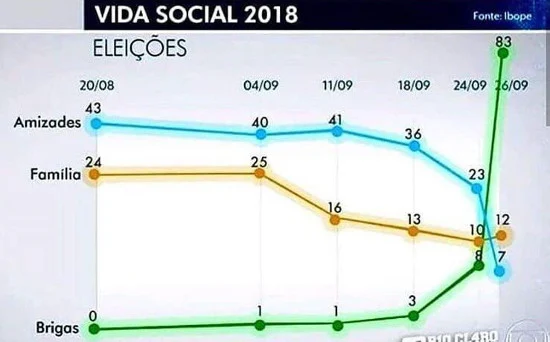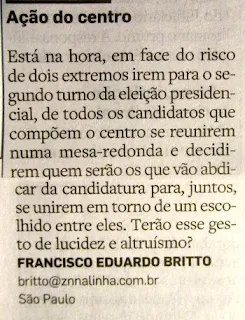A tosca brutalidade deste setembro foge às interpretações normais
e se transforma em paradoxo de si mesmo. As contradições esbarram umas nas
outras, disputando espaço.
Primeiro,
o fogo que destruiu o Museu Nacional, no Rio, consumiu em poucos minutos o que
fora acumulado em séculos, num retrato do incêndio geral que hoje perpassa o
Brasil como tragédia. Depois, o candidato presidencial que propõe liberar o uso
de armas e caça votos a partir da violência verbal foi esfaqueado em plena rua.
O
crime jamais foi instrumento da política e, assim, a tentativa de assassinato
em Juiz de Fora é repugnante em si. O fato de o criminoso ser um aparente
desequilibrado não diminui a aberração. A insanidade atenua o tipo e o rigor da
pena, ou exclui o caráter político da ação, mas não altera a sordidez do
atentado.
No
entanto, Jair Bolsonaro foi também vítima da própria ideia de violência
constante, suporte de sua candidatura, que ele mesmo apregoou de norte a sul.
Sua linguagem teve invariável tom destrutivo, como se ocultasse ódio interior.
A insistência em armar a população para enfrentar a violência significaria
abolir o próprio Estado, destruindo a polícia e a Justiça e, assim, criando o
caos absoluto.
Cada
proposta soava como chamamento a substituir o diálogo pela ferocidade da
imposição de ideias, como nas ditaduras. Noutras ocasiões exibiu destemperado
machismo – numa palestra no Rio contou ter quatro filhos homens e acrescentou:
“No quinto, fraquejei e veio mulher”.
Por
tudo isso tornou-se réu no Supremo Tribunal por “apologia do crime”, por
“incitar ao estupro” e por “racismo e injúria”. O próprio ministro Marco
Aurélio Mello relator dos processos, já indagou, publicamente, se “réu pode ser
candidato”. Não pôs em dúvida o aspecto legal (aplicável aos condenados em
segunda instância, como Lula da Silva), mas, sim, a legitimidade moral de um
réu se candidatar a chefe de Estado e de governo.
Para
parecer diferente dos políticos Bolsonaro evitou aliados, ainda que desde 1989
ele próprio viva dessa mesma política degradada. Foi vereador e quatro vezes
deputado federal, passando por nove partidos.
Os
desvarios e desequilíbrios atraem os desequilibrados e neles se multiplicam. A
partir daí podem redundar em adesão fanática ou em inimizade gratuita,
igualmente fanatizada. Em ambos os casos tudo é cego, como todo fanatismo. Ao
ser preso, interrogado sobre quem o mandou esfaquear, o criminoso respondeu:
“Foi Deus, lá de cima!”.
Invocar
o nome de Deus em vão, como artimanha tática, foi usual também na campanha de
Bolsonaro. Dias antes do atentado, os cartazes que o receberam em Presidente
Prudente e noutras cidades proclamavam: “Deus acima de todos”. Mesmo assim, ele
defendeu o uso de armas e se fotografou ao lado de crianças, esticando o braço
como se as ensinasse a disparar um fuzil.
Que
odioso deus o saudava? O amor é a única arma de Deus. Não há amor irado e a ira
jamais serviu a nada, menos ainda ao ato de governar.
Esses
pequenos “incêndios” na campanha eleitoral lembram a Alemanha de 1930 e o caos
que, três anos depois, levou Hitler ao poder. Eram tempos de frustração e
desesperança. Derrotados na guerra de 1914-18 e desabituados à democracia, os
alemães desconheciam o debate de ideias e o diálogo político.
O
partido nazista formou, então, “grupos armados” para “reerguer o orgulho da
Alemanha”. Em 1933, pregando a violência, Hitler chegou ao poder pelo voto. Não
buscava unir o país no diálogo para solucionar problemas. Ambicionava o poder
para impor a violência.
O
mais minucioso biógrafo de Hitler, o alemão Joachim Fest, lembra que a
aceitação das absurdas ideias nazistas só ocorreu porque a Alemanha “era um
país profundamente exasperado” e “sem rumo”.
O
Brasil de 2018 é, também, um país exasperado e sem rumo. A corrupção gerada no
conluio entre governantes e grandes empresários desacreditou a política e
reduziu os políticos a cinza inservível.
A
tática de Hitler, lembra seu biógrafo, “consistia em concentrar as energias
para fugir do anonimato e destacar-se de qualquer forma dos concorrentes”.
Assim, acrescenta, “tornou-se famoso pelo cinismo alucinante que foi sua
característica”.
É
a tática do “falem mal, mas falem de mim”, com que, aqui, Jair Bolsonaro saiu
do anonimato e virou candidato. Foi assim que dias antes do atentado, reunido
com ruralistas em Rondônia, prometeu reduzir as áreas de preservação ambiental
e criticou a visão unânime da ciência sobre o perigo do desmatamento da
Amazônia.
Hitler
foi “uma mistura de excentricidades e gafes”, definiu seu principal biógrafo.
Transpondo a 2018, basta estar atento para observar algo similar entre nós. Já
lembrei aqui que Lula e Bolsonaro são iguais no tom místico e autoritário, na
habilidade de nunca revelar o que são ao esconder-se mais ou ocultar-se menos.
Condenado
e preso, Lula já não é candidato, mas segue em campanha como escudeiro de
Fernando Haddad. Em árabe, Haddad significa “ferreiro”, mas ele quase nada
forjou como ministro da Educação, além de entregar o ensino superior a grupos
que comercializam ações na Bolsa de Valores. Não foi, também, violência?
O
atentado de Juiz de Fora é alerta e advertência. A oca campanha eleitoral não
pode ser substituída pela violência. Nem sequer em pequenos gestos, como o da
foto de Bolsonaro no hospital levantando os dedos para simular um revólver.
Seria
absurdo culpar a vítima pelo crime, mas no horror atual não há espaço para
nenhum mártir. Não há nenhum Gandhi. Tudo é alucinação e, entre as cinzas da
facada, só resta o velho adágio: violência gera violência.
 |
| Museu Nacional em chamas. (foto: Reuters, in bbc.com) |